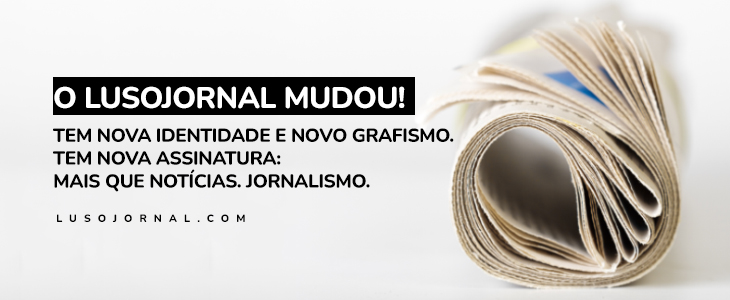No passado dia 29 de março, a Universidade Jean Monnet, em Saint Étienne, recebeu o jornalista e escritor José Rodrigues dos Santos, no âmbito do programa cultural da «Primavera dos Poetas».
O evento, organizado pelo Leitorado de Português da Universidade Jean Monnet de Saint Etienne, em parceria com o Instituto Camões e o Departamento de Estudos Políticos e Territoriais, contou com mais de uma centena de estudantes e público exterior.
José Rodrigues dos Santos proferiu uma conferência sobre regimes autoritários, na qual foram abordadas questões significativas sobre o regime ditatorial em Portugal e em outros países europeus, esclarecendo as diferentes características dos modelos e evocando a possibilidade ou não de uma eventual ascensão. O autor fez uso da sua experiência de jornalista e escritor para explicar o surgimento e funcionamento dos regimes em diferentes tipos de Governo.
José Rodrigues dos Santos concedeu uma entrevista aos estudantes de 3ºano do curso Línguas Estrangeiras Aplicadas Inglês-Português, onde foi questionado sobre diferentes temas relacionados ao seu percurso e às suas obras publicadas.
Tendo em conta as diferentes funções que ocupa – jornalista, romancista, professor universitário, apresentador de Telejornal – não se torna difícil conseguir conjugar tudo?
Sim, é um bocado difícil. Mas quando gostamos de fazer alguma coisa, arranjamos sempre tempo. Gosto de fazer o que faço. Buda dizia que há uma maneira de nós vivermos uma vida inteira sem trabalhar: é fazer aquilo que gostamos, porque não parece trabalho. Eu faço as coisas que eu gosto e divirto-me. É interessante falar com pessoas, dividir ideias. E, sobretudo, desafiá-las.
Nasceu em Moçambique, durante a Guerra do Ultramar, este facto teve alguma relação com a escolha da sua carreira como repórter de guerra?
Nasci e vivi muitos anos em zonas de guerra, mas tornei-me repórter de guerra porque era professor na universidade e tinha que fazer uma tese de doutoramento. Foi a razão pela qual comecei a trabalhar nisso. Depois percebi que precisava conhecer melhor o tema que eu estava a tratar. E, portanto, comecei a candidatar-me na RTP para cobrir guerras. Mas posso dizer que foi apenas por razões académicas que me especializei nesta área.
Em França é conhecido como “le roi du thriller bien informé”. O que tem a dizer sobre este título?
A questão é interessante. A minha ficção é uma ficção um pouco diferente da habitual. Quando se lê um livro meu, vemos uma história de ficção, mas aprende-se coisas sobre um determinado tema. Temos uma expressão em português chamada “passatempo”. Eu procuro que os meus livros sejam uma espécie de “ganha tempo”, isto é: você entretém-se a ler uma história, mas aprende coisas novas. Porque a verdadeira riqueza é o conhecimento. Os chineses têm uma frase que diz: “Quando vir um homem com fome, não lhe dê um peixe, ensine-o a pescar”. É o que eu procuro fazer nos meus livros, espalhar o conhecimento, fazer com que as pessoas vejam, pensem e reflitam sobre as coisas. Porque a maior barreira que temos é a nossa própria cabeça. É o nosso maior instrumento, mas também é a nossa maior barreira. Temos de ser capazes de nos questionarmos, de pôr duvidas, e não apenas repetir o que os outros dizem, mas pensarmos por nós mesmos.
Nas suas obras costumamos encontrar as temáticas religiosas relacionadas com a ciência. Que razões o levam a fazê-lo?
Na verdade, não é a ciência com a religião, mas a política com a religião. E depois tem toda uma simbologia. Na democracia também existem os ideais: como o respeito à bandeira, o respeito ao Parlamento, entre outras. Trata-se também de uma sacralização, um sentimento religioso na democracia e não somente na ditadura. A ditadura também tem essas ideias, que são na verdade os dogmas – uma parte que não se pode questionar. E na política não é diferente. Há também esta questão dos dogmas, coisas que não se podem dizer. Já tive problemas com alguns Partidos políticos, com a igreja e com a religião muçulmana. O que faço, é perguntar-me sempre se é verdade ou mentira. Se é verdade, então tenho o direito de o dizer. Há pessoas que dizem que algumas verdades podem ser inconvenientes. Mas, para mim, como escritor, a minha primeira preocupação é dizer a realidade. Posso admitir não dizer a verdade em dois casos: quando alguém está prestes morrer, por exemplo. Vale a pena dizer a verdade neste caso? É algo questionável. Ou, em outro caso quando se vê uma rapariga feia na rua. Não vamos dizer isto. Até porque não é uma verdade, mas uma opinião. Já na política e na ciência não há problema. Se existe um erro, deve-se corrigi-lo. As opiniões devem ser baseadas sempre em factos. E é o que eu faço nos meus livros.
De onde vem a sua inspiração?
A minha inspiração parte sempre de uma ideia, que geralmente acontece durante uma viagem. Quando viajo, vejo coisas diferentes, começo a pensar sobre o assunto, faço pesquisas e depois passo a ter novas ideias. E assim encontro bons materiais para escrever um livro. Às vezes, acabo por dar-me conta de que aquele tema não é interessante. Ou então, o que se sabe sobre aquilo, não tem nada de especial, porque toda a gente já sabe. Já me aconteceu várias vezes eu chegar à conclusão de que o interessante mesmo era outro tema ligado ao anterior. Por exemplo: o meu livro “A Fúria Divina” foi um projeto que nasceu quando eu estava no Paquistão. Passando por uma livraria, encontrei livros que falavam sobre o projeto nuclear paquistanês. Foi então que me questionei como é que um país tão falhado podia ter armas nucleares, uma vez que o próprio regime tem ligações com Al-Qaïda. E pensei que seria um bom tema para um livro. Comecei então a pesquisar e a estudar como tudo funcionava para poder construir a história e criar os personagens. E foi assim que me dei conta de que as ideias que eu e muitas outras pessoas tinham não eram, de facto, verdadeiras. O que significa que se eu não sabia, muita gente também não sabia. E que se eu tinha o interesse em aprender, muita gente também o teria.
José Rodrigues dos Santos conclui dizendo que escreve para ele próprio, mas que valoriza sobretudo o olhar do leitor, coisas que alguns escritores acabam por deixar de lado. “Na verdade, não se pode haver escritores, se não houver leitores” – declara o autor.
Entrevista realizada pelos alunos: Indye Zennaf, Mickaël Castaldi e Vinicius Nascimento Barros
[pro_ad_display_adzone id=”9774″]