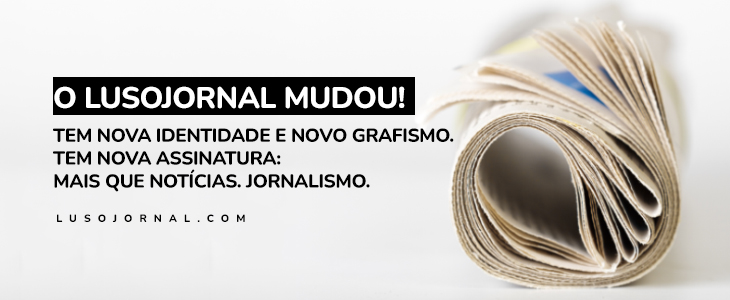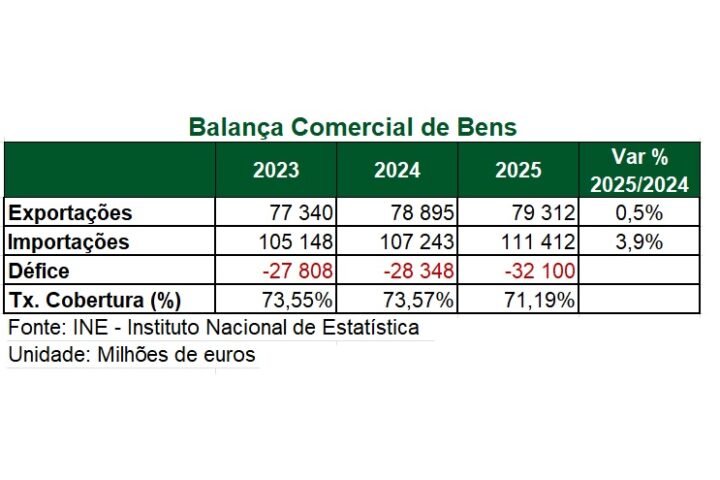Clara Macedo Cabral vive em Londres desde 2005 e lançou este ano “A Inglesa e o Marialva: um amor na arena”, um romance editado pela Casa das Letras. Uma obra que retrata a história verídica de Virginia, uma inglesa da classe alta que em 1961, aos 21 anos de idade, decide fintar o conservadorismo inglês e a sociedade patriarcal portuguesa, atravessando a Europa de carro e trocando as terras frias e húmidas de Sua Majestade pelas terras quentes e secas da Chamusca do Ribatejo com o intuito de aprender a tourear.
Com o apoio de importantes famílias portuguesas, Virginia Montsol – seria esse o seu nome artístico – conquistou as arenas, tornando-se numa brisa de ar fresco e numa efémera celebridade no pequeno e elitista meio da tauromaquia, ajudando a derrubar atavismos que se julgavam perenes.
Ginnie apaixonou-se então pelo professor de equitação, Alberto Lopes, um galã vinte anos mais velho, e mantiveram uma relação mais ao menos secreta.
Alberto chegou a pedi-la em casamento, mas Virginia recusou. Já separados, ele no México e ela regressada ao Reino Unido por lhe ter acabado o dinheiro, Alberto forçou o fim dos sonhos românticos da jovem inglesa. Nunca mais se viram e Virginia nunca mais regressou a Portugal.
Virginia, após essa louca e curta emancipação, acabou casada com o marido que a família escolheu para si.
Clara, como é que tomaste conhecimento desta história?
Eu tomei conhecimento desta história num cocktail aqui em Londres. Fui apresentada a um irmão da Virginia, ela já não era viva, mas ele ao ouvir o meu nome perguntou-me “mas é portuguesa?” Depois de confirmar, ele disse-me “a minha irmã viveu em Portugal, onde perseguiu o sonho de ser toureira e viveu lá com um homem nos anos 60”. Ora, essas duas coisas que ela fez nesses anos 60 eram ousadas, à frente do seu tempo. Isto intrigou-me, foi uma mola. Eu sabia pouquíssimo quando iniciei a minha pesquisa. Fiz entrevistas em Inglaterra e em Portugal, mas passados cinquenta anos desde os acontecimentos, essas pessoas ou estão mortas ou apagaram esses acontecimentos das suas memórias ou têm acerca deles contornos muito vagos. De modo que não foi fácil preencher os vazios desta história, mas eu tentei fazê-lo menos à base da imaginação e mais à base dos factos. Tentei ser muito fiel ao que fui recolhendo e consegui reconstruir a história.
Sim, ao ler o livro, eu li-o como um romance, claro, nota-se um certo registo jornalístico. Mas, Clara, a família da Virginia está ao corrente da publicação do livro?
Exatamente. Sim, eles sabem que eu publiquei um romance em Portugal, em língua portuguesa. Veremos o que se passará a seguir.
Eu achei esta personagem da Virginia fascinante porque ela demonstrou uma vontade de quebrar convenções, durante a juventude principalmente. Uma vontade que era rara à época. Sei que já na sua infância os conflitos com a irmã e a escola eram frequentes. Em que sentido é que essa infância a levou aos feitos da juventude?
Ela era de facto uma rebelde, alguém que desafiava. Ao contrário da irmã, que acatava as ordens do pai, a Virginia questionava o pai, a autoridade dos professores. Eu penso que o que ela fez depois vem em consonância, quer dizer, ela fez uma coisa diferente. Era algo que lhe convinha por várias razões, por causa da rivalidade que ela tinha com essa irmã, era uma forma de sair da sombra da irmã e do pai. Ela era uma pessoa em busca de um destino diferente. O destino que os pais escolheram para as filhas, e a que irmã seguiu – o destino normal naquele meio rural, snobe, de onde ela provinha: casar bem, cedo e ter filhos. A Virginia resistiu a isso. E com o Alberto, seu professor e mestre, com quem ela se envolveu amorosamente, ela tinha-lhe respeito, mas não tinha a atitude da mulher portuguesa. Se ela discordasse, dizia-lho. Houve claro bastantes brigas, pois ele não estava habituado a esta atitude. O Alberto, por um lado, gostava disso, mas também a temia. E isso surpreendeu-o, provavelmente.
Como é que a família de Virginia, falo principalmente do pai, encarou a sua vinda para Portugal?
No início, a família não aceitou mal. Era qualquer coisa ligada aos cavalos, o pai dela era treinador de cavalos, e ele até gostou daquela bravura da filha. O pai era também um militar, tinha participado na guerra…
Então o pai também era um homem à frente do seu tempo.
Sim, de certa forma. Ele era um self made man. A mãe era de origem mais aristocrática. O pai inventou o seu próprio destino. De facto, a família no começo não aceitou mal, mas à medida que o tempo foi passando, à conta desse envolvimento com o professor, vinte e poucos anos mais velho do que ela, a família quis que Virginia voltasse e que terminasse aquela relação. Foi uma luta que ela contidamente foi mantendo com os pais. E ela não queria voltar, ela queria continuar lá, em Portugal. Portanto, foi mesmo a falta de meios económicos e o facto de o Alberto querer sair – ele não era uma pessoa muito constante e não se sentia bem em Portugal – que forçaram o regresso dela a Inglaterra.
Clara, vamos colocar o teu livro um pouco de lado, mantendo, claro, o tema que lhe está subjacente, e vamos falar um pouco da atualidade portuguesa. Em Portugal, como sabes, as touradas acicatam cada vez mais os ânimos. Já não é um assunto consensual como era antigamente. Qual é a tua opinião sobre esta atividade, que uns dizem fazer parte de uma cultura ancestral e outros dizem ser apenas brutal e sanguinária?
Bem, eu não vejo touradas. Vi apenas duas. Uma, antes de escrever esta história e outra enquanto a escrevia. Duvido que volte a ver outra. A tourada neste livro é apenas um pano de fundo para falar da mulher e da sua bravura. Julgo que em Portugal existem já 30 municípios que declaram a tauromaquia como património cultural e imaterial: Coruche, Azambuja, Alter do Chão…
Essencialmente no Alentejo e no Ribatejo.
Exatamente, sobretudo nessas regiões. Mas para mim essa dicotomia entre património cultural e espetáculo de selvajaria é uma dicotomia errada. A questão não é ser cultura ou barbárie, é mais subtil do que isso. A tourada é acerca da morte. É um ato de bravura, embora o animal esteja sempre em posição de desvantagem, no entanto o homem que o enfrenta tem de ter coragem, perícia, anos de treino.
Então não consideras o toureiro um simples cobarde, como tanta gente o considera?
Não, absolutamente não. Eu pouco sabia de tourada, mas de facto sei agora que se necessita de muitos anos de treino, muita perícia, muito trabalho com os cavalos. Sei que o animal está numa posição de desvantagem, isso não vou negar.
É exatamente por isso, por causa dessa natural posição de desvantagem do touro, que te fiz a pergunta sobre a eventual cobardia do toureiro.
Não, não. Para mim, o que a tourada demonstra é o lado trágico da existência. Tanto a tragédia do animal, que vê a morte a aproximar-se, mas há ali também a tragédia do homem. Quer dizer, o toureiro não é um cobarde, porque mesmo quando ganha, há uma brevidade naquela vitória, há uma vaidade e uma vacuidade naquela vitória. Sabe que a seguir àquela luta tem de haver outra e mais outra, até que ou o homem perde ou se reforma. Portanto, ao observar uma tourada, damo-nos conta dessa fragilidade, da fragilidade da vida do animal e da fragilidade da vida humana. E banir a tourada parece-me que seria autorizar uma parte da sociedade a forçar o seu julgamento sobre a outra. Portanto, não tomo posição sobre isto. Não é assim tão simplista…
Entrevista realizada no quadro do programa «O livro da semana» na rádio Alfa, apoiado pela Biblioteca Gulbenkian Paris
Próximo convidado: João Nuno Azambuja autor de “Os Provocadores de Naufrágios”
Quarta-feira, 10 de outubro, 9h30
Domingo, 14 de outubro, 14h25