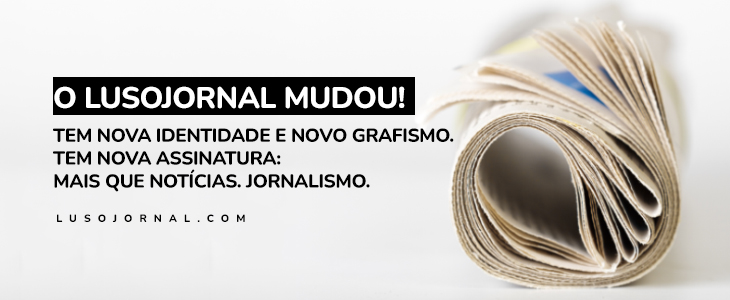João da Silva é jornalista e acaba de lançar “Quantas vidas temos?”, o seu segundo livro. A história de vida do João da Silva era uma história normal até que um dia descobriu algo que o mudaria para sempre.
Até então ele partilhava com todos nós o ritmo de vida moderna que nos impede de viver verdadeiramente. O excesso de trabalho, a vontade de encher o vazio existencial com bens materiais ou as horas inúteis que correm quando olhamos para os écrans dos nossos telemóveis ou computadores… Tudo mudou então quando o João descobriu que tinha cancro. E essa possibilidade, essa descoberta, que a todos nos aterroriza, o João teve de encará-la não uma, não duas, mas três vezes. O João descobriu três vezes que tinha cancro e superou-o dessas três vezes. Dessa experiência nasceu o seu primeiro livro, “O sofrimento pode esperar”. Um diário que nos transporta para uma experiência limite. Uma escrita crua, genuína, por vezes algo desordenada como desordenada deve estar a cabeça daqueles que passam por todo aquele sofrimento.
Após essa tripla vitória, o João renasceu um homem diferente. Um homem que se agarrou ao essencial daquilo que nos faz humanos: ver os filhos crescerem e ajudar todos aqueles que passam pelo mesmo pesadelo que ele já enfrentou. E este seu segundo livro, “Quantas vidas temos?”, é essa ajuda. Uma leitura que nos ensina a dar importância ao que realmente é importante.
João, a certa altura, referes que o teu filho tinha apenas um ano e meio quando descobriste que estavas doente e que o teu maior medo foi o constatar algo muito doloroso: “ele dificilmente teria memória de mim se eu morresse”. Foi essa constatação que te deu aquela vontade imbatível de vencer a doença?
Não foi só, mas também. Eu tive na altura essa perceção: que ele era demasiado pequeno. E como só se tem as primeiras memórias quando temos cinco ou seis anos de idade, portanto ele dificilmente se lembraria do pai se eu morresse. Foi uma meta que coloquei a mim próprio. Não logo no começo porque inicialmente temos aquele confronto com a realidade da doença, o que nos desarma por completo, mas à medida que a situação foi evoluindo, comecei a ter a perceção de que não valia a pena procurar viver no futuro. Que teria, sim, de viver aquele momento. E a única coisa que eu podia fazer era, de facto, dar-lhe atenção, beneficiando do facto de estar vivo e dando-lhe também o carinho que não sabia se no futuro lhe poderia dar. Porém, ao mesmo tempo, eu conto essa história, quando fiz um dos autotransplantes tive uma convulsão. Uma coisa grave. Chamei para me ajudarem – a operação é feita dentro de um pequeno aquário de vidro – e chegaram muitos médicos e enfermeiros. Eu tremia por todo o lado e até lhes foi difícil enfiarem uma agulha para verem o nível de oxigénio. Contudo, dentro de mim, eu estava calmíssimo e mantinha os meus olhos em dois desenhos que o meu filho me tinha feito. Ou seja, apesar do alvoroço à minha volta, eu mantive-me sereno a pensar nele. Portanto, entendo que sim, que o meu filho foi essencial para que eu, naquele momento, valorizasse a vida.
Que idade tem o teu filho agora?
Tem treze anos.
Quando morreres, lá para os 120, ele já vai ter memórias que cheguem.
É o que eu espero!
Tudo costumas dizer que aprendeste a viver como uma “criança”. O que queres dizer com isso?
Também tem a ver com o meu filho. As crianças, ao contrário dos adultos, não têm a capacidade de programar o tempo. Para eles só existe o hoje, só existe aquilo que lhes apetece fazer agora. Quando uma criança nos pede para ir jogar à bola e nós dizemos que não, ele fica frustrado como se não houvesse outra possibilidade…
Como se não houvesse amanhã.
Sim, exato, como se não houvesse amanhã… E nós não. Nós adiamos. Vamos no fim de semana ou noutro dia qualquer. E isso passou-se assim comigo. Um dia, ele ligou-me e pediu-me para ir jogar à bola com ele. E eu disse-lhe que não, que não podia porque estava a trabalhar. Quando, na verdade, eu era capaz de passar o dia inteiro no trabalho, ali a engonhar, e só à hora de sair, debaixo daquele stress, porque achava que vivia bem e só escrevia bem debaixo de stress, é que eu desatava a escrever. E perdia horas fundamentais para estar com ele. E quando ele me ligou e eu disse que não, aquilo ficou a pesar-me na cabeça, e eu fui para casa a pensar naquilo. A partir desse dia, decidi dar-lhe aquele tempo. Não só a ele, mas também a mim. Viver o dia como se fosse o último que nós temos. Tudo é imprevisível. Aliás, neste novo livro, uma das premissas é colocar as pessoas perante essa imprevisibilidade da vida. Não existe nada no futuro.
Neste livro, falas da emoção que sentiste quando recebeste uma carta do Presidente da República…
Era um pequeno cartão que me dava os parabéns pelo livro. Eu fui muito contactado depois do primeiro livro. Aliás, na génese desse livro estão muitas das mensagens que recebi e em que constatei que havia muita gente zangada. Não só porque estavam doentes. Pessoas zangadas com a vida porque não gostavam da vida que levavam. De repente, havia então pessoas que queriam saber o que é que eu achava sobre as suas vidas. Em relação à mensagem do atual Presidente da República… todos nós temos aquela vaidade de um dia sermos reconhecidos em grande. Foi esse o significado que teve. Foi importante para mim.
O que significa para ti a escrita que praticas agora? Uma escrita mais pessoal, diferente da escrita jornalística. É uma espécie de catarse?
Nunca tive muito bem a perceção disso. Quando escrevi o primeiro livro, o Diário – que nunca foi pensado para ser um livro, que eram meras notas – talvez fosse a tal catarse, não sei. Não que me sentisse aliviado a escrever. Eu queria apenas registar todos aqueles momentos. Depois, mais tarde, pensei que talvez aquilo se pudesse transformar num livro para ajudar alguém. O que eu sinto é uma necessidade de escrever, de comunicar, de ajudar os outros. Eu fui forçado a contactar com uma realidade que a maior parte das pessoas não vive, mas que foi para mim uma oportunidade de crescimento em que compreendi que há alguma urgência em viver a vida. As pessoas vivem em piloto automático e vivem infelizes. Elas não param para refletir, para procurar aquilo que querem ser. E lá vão vivendo, culpando os outros e a sorte. Este livro é um convite a repensar tudo isso. Que nós só temos esta vida física, que é tudo efémero. Seja qual for a circunstância em que nos encontramos, nós podemos procurar outra vida. E temos todas as outras vidas que temos em nós: as pessoas que amamos. Na vida, nós só temos o presente e as memórias.
Entrevista realizada no quadro do programa «O livro da semana» na rádio Alfa, apoiado pela Biblioteca Gulbenkian Paris
Próximo convidado: Francisco Camacho, autor de «Dernière chanson avant la nuit»
Quarta-feira, 29 de maio, 9h30
Domingo, 02 de junho, 14h25
[pro_ad_display_adzone id=”24612″]