Marcos Cruz, 46 anos, lançou há pouco “Os pés pelas mãos”. Um livro formado por quase duzentas crónicas que dificilmente deixarão alguém indiferente.
Formado em jornalismo, o Marcos trabalhou durante 20 anos em jornais como o “Diário de Notícias”, o “Correio da Manhã” e “O Norte Desportivo”. Fundou fanzines e revistas e até criou uma loja onde vendia mobiliário intervencionado. Hoje é copywriter na Casa da Música, um dos ex-libris da cidade do Porto.
Apesar de todas estas atividades, ele (quase) nunca deixou de escrever. Durante algum tempo, foi escrevendo textos numa rede social, meio de comunicação hoje inevitável e que ele próprio considera “um cemitério de promessas”. Esses textos tiveram um tal sucesso (materializado nos tais likes que se tornaram a obsessão de meio mundo) que o editor da Coolbooks o convidou para os compilar em livro.
As crónicas de “Os pés pelas mãos” andam ali de mão dada com a poesia, muitas vezes surreais e filosóficas, de memórias, mas quase sempre um comboio descontrolado que vai espantando o leitor, seja pelas cenas absolutamente hilariantes e absurdas, seja pela crueza de dizer aquilo que todos desejamos dizer embora nos falte a coragem.
Marcos, na sinopse do livro, falas na primeira pessoa e dizes que este livro “é um retrato fiel do seu autor”. Quando li o teu livro, percebi que não existe ali qualquer filtro, nenhum tipo de autocensura. Numa época em que toda a gente, incluindo muitos artistas e escritores, têm medo de ofender, de ferir suscetibilidades… Não te sentes uma lufada de ar fresco?
Não, eu sinto é a necessidade de respirar ar fresco. E é exatamente por isso que escrevo. A escrita é uma forma de olhar para dentro, perceber aquilo que me faz bem enquanto pessoa que quer melhorar todos os dias, enquanto pessoa que se quer desenvolver a nível humano sobretudo… e portanto o pôr cá fora essas coisas que seriam passíveis de autocensura, caso eu fosse eventualmente uma pessoa mais equilibrada, tem a ver exatamente com isso, tem a ver com ampliar esse espaço de existência, que é o meu, num mundo que tem uma capacidade de encaixe que varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que não vão gostar daquilo que escrevo, há outras pessoas que vão gostar, mas isso é a vida. Eu faço as coisas porque sinto que preciso de crescer nalguns aspetos e é exatamente nesses aspetos que eu incido. A escrita – desculpa estar a demorar um bocadinho – tem a ver com esse esticar dos meus limites, com essa ideia daquilo que eu preciso.
E quando começaste esta “brincadeira”, como já disseste, de escrever no Facebook, já tinhas em mente transformar todos estes textos em livro?
Não, não tinha. Eu comecei a escrever os textos no Facebook por causa da interação. A relação interpessoal interessa-me muito e isso torna muito diferente escrever no Facebook ou numa folha em branco. No Facebook, apesar de estarmos à frente de um computador e muita coisa nos separar do mundo que nos lê, há essa ilusão de conversa. Para além do mais, nós sabemos perfeitamente que as pessoas vão comentar, vão interagir… e isso torna as coisas muito mais dinâmicas e confere-lhes um sentido que se calhar não faz sentido para mais ninguém, mas que para mim faz, que é essa ideia de estar a conversar com alguém, como se estivesse num café a contar alguma coisa a alguém. Isso para mim é muito mais motivador do que escrever na tal folha em branco. Daí, eu fazer esses textos a um ritmo quase diário no Facebook. E para mim bastava-se o Facebook, aquela língua interminável, que a gente vai puxando, puxando e tem sempre mais qualquer coisa a dizer. E, por isso, nunca tinha pensado em converter esses textos num livro, mas a dado ponto houve dois designers do Porto que disseram gostar muito dos meus textos. Eles na altura estavam a orientar mestrados em Design Editorial na Faculdade de Belas-Artes do Porto e perguntaram-me se me chatearia se eles propusessem como projeto final de curso fazer um livro meu. E eu claro que lhes respondi que não, que não me chateava, pelo contrário, que me agradava muito porque achei uma forma espontânea, como eu gosto, de as coisas acontecerem. Fui lá, reuni com eles, e eles fizeram um livro muito bonito, enorme, de quinhentas e tal páginas, que acompanhava cronologicamente esse meu percurso de escrita no Facebook.
Mas neste livro, “Os pés pelas mãos”, não se segue uma ordem cronológica, tu reorganizaste os textos.
Sim, sim. Neste livro houve alguma preocupação de alinhamento, mas que teve a ver com outros critérios. Teve a ver com o ritmo, a dinâmica da leitura e o próprio conteúdo, ou tom, o pendor, dos textos, de forma a não setorizar, de pôr textos de determinado tipo numa parte do livro, outros textos de outro tipo noutra parte. Um bocadinho como acontece nas cidades, ou está a acontecer, que é a lógica de shopping, com a praça da alimentação em cima, as lojas de certo tipo de roupa num andar… Não, eu gosto da mistura. Gosto que as pessoas leiam um texto filosófico, ou uma reflexão mais profunda, e de repente caiam num absurdo total. Que haja esse elemento de surpresa permanente, de não sabermos o que nos vai acontecer nessa caminhada de leitura. Que é no fundo o que nos acontece na vida e que eu particularmente gosto que aconteça.
Como geriste a passagem da escrita jornalística, que é mais seca, para a escrita literária? Sentiste-me mais livre?
Muito mais! Não tem comparação nenhuma. A escrita jornalística aprisiona-nos, aquilo é obrigar-nos a um registo de síntese que, a mim pelo menos, toldava a espontaneidade. De alguma maneira, eu sentia que já não era bem eu a escrever. E também o tipo de linguagem, o tipo de escrita, tem de encaixar no estilo no órgão de comunicação para o qual trabalhas. E isso para mim não é escrever. Escrever, para mim, é um exercício de honestidade. Eu lembro-me perfeitamente de fazer reportagens em que de alguma maneira transmitia o que senti ao escrever e ancorava-me muito em aspetos semióticos, coisas que me chamavam à atenção e com as quais eu compunha um quadro que era necessariamente um quadro meu, refletindo o meu olhar sobre aquilo. E a partir de determinado momento, senti que o meu olhar não era mesmo nada importante porque o que o jornal queria era aquilo que eu faria e qualquer outra pessoa faria igual. A partir desse momento, eu pensei “é, pá, eu não estou aqui a fazer nada”. Acabei por ser despedido em 2009. Viemos 123 pessoas embora, foi o primeiro despedimento coletivo no “Diário de Notícias” e no “Jornal de Notícias”, foi a “Controlinveste”, e eu creio que foi um despedimento justo. Eu se fosse o meu patrão também me tinha despedido. Depois houve um período em que eu tive mesmo de deixar de escrever para que toda essa ferrugem e até alguns anticorpos que eu criei em relação à escrita desaparecessem.
Entrevista realizada no quadro do programa «O livro da semana» na rádio Alfa, apoiado pela Biblioteca Gulbenkian Paris
Próximo programa:
Quarta-feira, 20 de fevereiro, 9h30
Domingo, 24 de fevereiro, 14h25
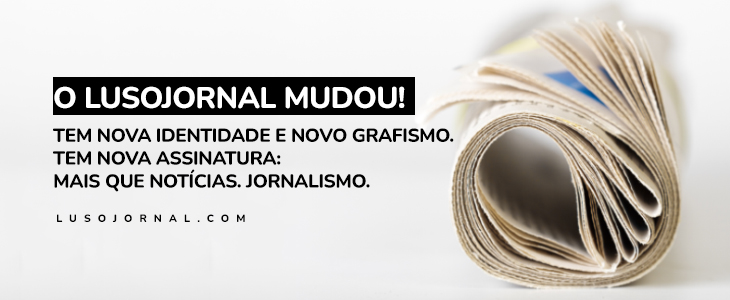






















Gostei…
Parabéns….