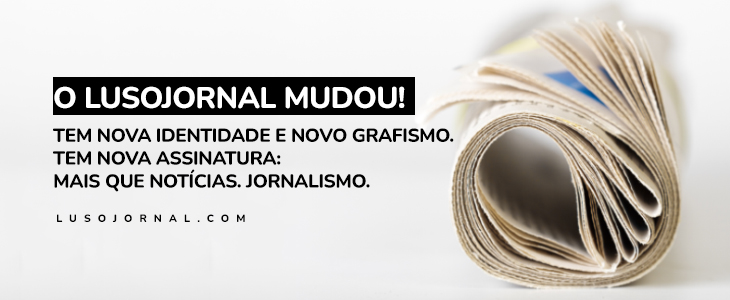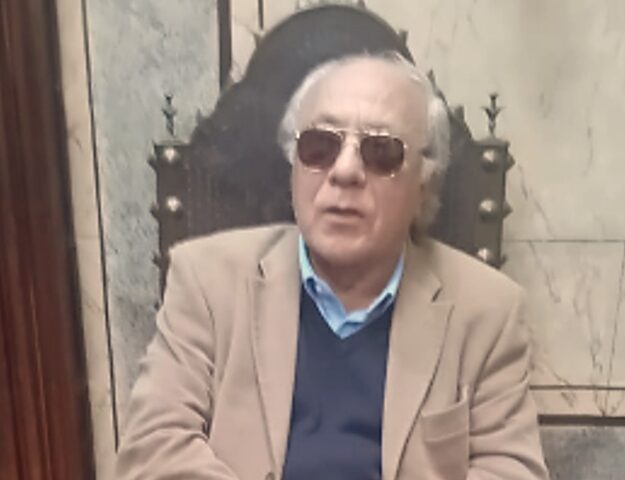Nos anos sessenta, não havia televisão, nem cinema, nem teatro público. As únicas representações acessíveis eram as organizadas pela associação da juventude católica da paróquia, sempre sob o olhar vigilante do pároco.
Eu não perdia uma delas. Assistia a todas com assiduidade, muitas vezes levado pela filha mais velha dos nossos vizinhos, que me tinha em boa estima e encontrava na minha presença o pretexto ideal para convencer os pais a deixá-la sair. Eu era esse pequeno rapaz que precisava de ser escoltado em quase todas as ocasiões. As minhas professoras, cúmplices discretas, certamente não eram alheias a este privilégio.
Essas peças, retiradas do quotidiano da vida social lusófona, tinham um encanto particular. O padre, orador hábil e astuto, encontrava nelas matéria para alimentar as suas homilias dominicais, onde deixava ressoar, como um eco discreto, a atualidade da comunidade paroquial. As confissões regulares dos fiéis ofereciam-lhe, de resto, um reservatório inesgotável de confidências.
Confesso: para mim, esse momento após o Evangelho era um verdadeiro espetáculo. Eu saboreava-o sem vergonha, fascinado com o pároco que, do alto do púlpito, dominava a assembleia com um olhar teatral. Mais comediante do que pregador, pronunciava palavra a palavra um texto preparado com esmero. O sermão começava sempre da mesma forma, com uma admoestação firme:
– Não vos orgulheis de vós próprios, porque Deus conhece os vossos pecados e todas as vossas fraquezas!
.
Nesse dia, celebrava a minha comunhão solene. Meus pais fizeram questão de que a cerimónia tivesse lugar em Portugal, em Felgueiras, na pequena igreja de São Jorge, embora o meu ano de catequese tivesse decorrido em Bellevue, na França, onde nos tínhamos acabado de instalar.
Alinhados de cada lado da nave central, éramos uma vintena de crianças, entre as quais o meu irmão mais novo, autorizado por exceção a partilhar comigo aquele momento. À minha direita, ele recebia as carícias ternas da nossa mãe, gestos silenciosos do seu amor indestrutível. À minha esquerda, o meu pai, grave e ereto, parecia encarnar a solenidade do instante.
Tinha sido escuteiro, depois chefe de escuteiros. Mais tarde, tornou-se homem de confiança de um padre exorcista, célebre em todo o bispado do Porto pelas suas lutas noturnas contra as forças do mal. Foi assim que santos, espíritos maus e até o próprio diabo entraram na minha infância através dos seus relatos. Essas histórias gelavam-me de medo, mas serviam sobretudo para lembrar-nos que só o Paraíso poderia garantir a paz eterna.
Naquele dia de comunhão, o meu pai ignorava, talvez, que eu era apenas um espetador atento, mais cativado pela arte oratória do sacerdote do que pela gravidade do acontecimento.
Do alto do púlpito, o padre falava da passagem da infância para a adolescência, idade em que muitos de nós, dizia ele, iríamos já para o mundo do trabalho, com apenas quatorze anos. Denunciava a negligência dos nossos pais, incapazes, segundo ele, de nos oferecer a ternura e a educação necessárias para nos armar contra as tentações de um mundo hostil.
E, depois de tantas acusações, escolheu dar-lhes uma segunda oportunidade. O perdão deveria vir de nós, os filhos. Os pais avançariam, um a um, para pedir a graça de Deus através de um abraço e de um beijo de arrependimento.
Vi a minha mãe chegar primeiro, com os olhos marejados de lágrimas, pedindo perdão ao meu irmão, esse pequeno artista com quem eu tantas vezes me desentendia. Também ele chorava, com um talento precoce de comediante. Eu, porém, permaneci seco, sem culpa. Esperava outra coisa: que o meu pai, finalmente, me pedisse perdão pelas injustiças que tantas vezes sofri quando pagava pelos erros do meu irmão. “Tu és o mais velho, não o provoques!”, repetia ele sempre. Eu já imaginava o seu olhar enternecido, o tão esperado “Olha que eu gosto muito de ti”.
Ele aproximou-se. Inclinou-se. E, num gesto rápido, desferiu-me uma pequena bofetada na face. Sem uma palavra. Depois seguiu em frente, deixando atrás de si a fila inteira em lágrimas, eu também, mas de raiva e incompreensão.
Daquele dia, já não guardei nenhuma lembrança feliz.
Anos mais tarde, por volta dos meus dezasseis, ousei perguntar-lhe:
– Porquê, pai?
– Eras o único que não chorava, respondeu-me. Vi o olhar do padre sobre ti. Então encontrei esse meio para arrancar-te algumas lágrimas.
O meu pai partiu sem nunca me ter dito “amo-te”. Mas sei que teria dado a vida pelos filhos. E, no fundo, é isso que importa. Nunca lhe guardei rancor.
.
Manuel Maia Teixeira
.
Foto da igreja de Borba de Godim.
A velha igreja de S Jorge foi destruída