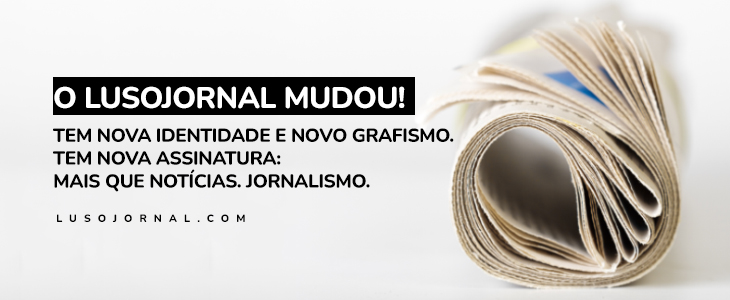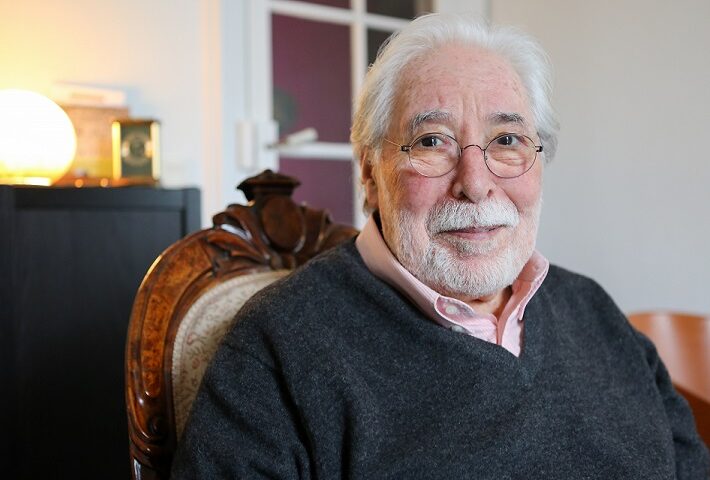“Pratas Conquistador: a história desconhecida de um Charlot Português” é o sétimo livro de Paulo M. Morais e, como outros do autor, anda por ali nas porosidades da fronteira entre a ficção e a não ficção. Há uns tempos, o Paulo teve de esvaziar uma casa da família onde vivera com a avó e, no meio de uma montanha de coisas colecionadas ao longo de uma vida, ele fez uma descoberta inesperada: um conjunto de cartas, fotografias e recortes alertando-o para a existência de um tio-bisavô que foi um dos pioneiros do cinema português. Um personagem de quem, salvo uma ou outra anedota familiar, pouco sabia. Então, graças a essa descoberta, o Paulo M. Morais, que estudou Comunicação Social e também foi crítico de Cinema, partiu em busca de Emídio Ribeiro Pratas, esse tio perdido, e encontrou nos arquivos da Cinemateca um filme datado de 1917 com o título de “Pratas, o conquistador”.
Um artigo do “Diário de Notícias” de 1996 é uma das escassas referências ao seu tio Emídio e ao seu filme mudo amplamente inspirado em Charlie Chaplin, pouco original portanto, embora, segundo José de Matos-Cruz, um estudioso dos primórdios do Cinema Português e o autor do tal artigo, lhe aponte, e passo a citar, “certos laivos de crítica social, a assumir em seu contexto histórico: as damas fingidamente púdicas, as cargas policiais, a típica mulher que pesquisa os caixotes”.
“Pratas Conquistador”, que fecha com um conjunto de imagens históricas recolhidas diretamente na fonte, é um livro importante que, 100 anos depois, traz para a ribalta um dos pioneiros do nosso cinema.
Fala-nos um pouco deste teu tio Emídio. Onde nasceu, que tipo de vida teve até a 1917, o que fez depois disso… Já te ouvi dizer que ele era excêntrico e mulherengo.
Eu cresci a ouvir histórias do meu tio Emídio, contadas pela minha avó, e eram sempre muito engraçadas. De facto, ele foi um personagem, uma pessoa que se tornou um personagem na família. Ele fez mil e uma coisas, chegou a ter mercearias, uma peixaria, uma loja onde reparava de tudo, levavam-lhe um objeto velho, sem préstimo, e ele transformava aquilo num candeeiro, por exemplo. Foi alguém que foi pulando entre vários interesses. E eu tentei perceber por que razão ele teria esse lado tão diletante que chegou supostamente, antes de fazer o filme, a trabalhar na Casa Real. É portanto um personagem cheio de histórias, que eu conhecia superficialmente e que tentei, através do livro, com partes ficcionadas e não ficcionadas, conhecer um bocadinho melhor.
A tua avó, que contava tantas histórias, nunca mencionou este filme. O que levou a esse esquecimento?
Essa foi a grande questão que me assolou quando encontrei aquele artigo. Como é que uma história tão interessante, tão essencial na vida do meu tio-avó, não passou às gerações seguintes? Ou, se passou, eu, pelo menos, não a retive. O filme nunca foi mostrado, nem nunca se disse que ele existia. Então quando encontrei aquele jornal foi como reencontrar-me com uma parte do passado que eu poderia nunca ter conhecido. Essa linha tão ténue entre o que fica e o que não fica, entre o que a gente conhece e desconhece, foi um pouco atormentadora. Não diria que fiquei desgostoso com a minha avó, mas fiquei intrigado como é que essa história não foi passada e não tenho uma explicação para dar.
O que sentiste quando viste este filme pela primeira vez? Ver aquele teu antepassado a fazer todas aquelas acrobacias deve ter sido emocionante.
Como tu referiste, eu fui crítico de cinema, que é uma paixão que vem desde muito cedo. Criei-me naquelas descobertas em que se vai às salas de cinema escuras e há um projecionista a passar o filme só para nós e a gente pede para voltar atrás para ver melhor uma cena. E a realidade com que me deparei foi totalmente diferente. Tive de visionar o filme numa salinha muito pequena, numa cassete VHS, um formato com o qual as novas gerações nem sequer tiveram contacto. Nem o controlo remoto funcionava. Foi muito pouco glamoroso, devo dizer, e foi muito cansativo, tive uma enxaqueca nesse dia. Na altura, não tive a verdadeira dimensão de estar a ver um antepassado meu, com quem não me cheguei a cruzar em tempo de vida. Nós sabemos que o cinema é uma ficção em si, que as imagens não são reais, e, no entanto, as imagens ali estavam, a mexerem-se para mim, e ele a olhar para a câmara. Um olhar que me perturbava, como se me fizesse algumas perguntas, me questionasse como é que foi possível ficar esquecido na família e, provavelmente, no cinema português.
Conheces o motivo pelo qual a carreira do teu tio, após tão extraordinário começo, não explodiu rumo ao sucesso?
Realmente, o filme teve muitas boas críticas. Eu ainda consegui encontrar algumas delas nos jornais de 1917, muito elogiosas, augurando um belíssimo futuro ao autor e intérprete. Porque não seguiu? Terá um pouco que ver com o país que somos, com aquilo que ligamos à cultura e, de certa forma, ao entretenimento. Hoje em dia, grandes cineastas nossos continuam com os mesmos problemas em filmar. A carreira do Manoel de Oliveira foi o que foi porque teve de ir lá para fora arranjar financiamento. E nós sabemos o que é que passam os escritores, os pintores, os criadores artísticos no nosso país. Eu julgo que ele padeceu do mesmo problema. Não sei por que razão não terá arranjado financiamento para outros projetos que certamente que teria, até porque ele fundou uma produtora.
E em relação a este livro. É ficção ou não ficção? Como o classificas?
Eu classifico-o como um romance, embora baseado numa história com bases reais. Há partes que são perfeitamente ficcionadas. Com este livro, eu quis retomar o meu início, o “Revolução Paraíso”, um romance clássico, mas ao mesmo tempo era uma história tão familiar, em que a minha presença, embora de forma alterada, fazia sentido, que se acaba por juntar essas duas coisas, a ficção e a não-ficção. Mas um romance moderno é um pouco isto. Classificá-lo de forma muito estanque e com barreiras muito definidas faz cada vez menos sentido.
Entrevista realizada no quadro do programa «O livro da semana» na rádio Alfa, apoiado pela Biblioteca Gulbenkian Paris
Próximo convidado: Jean-Jacques Fontaine, autor de “Le Brésil de Jair Bolsonaro” e “L’Amazonie en feu: état d’urgence”
Quarta-feira, 20 de novembro, 9h30
Domingo, 24 de novembro, 14h25