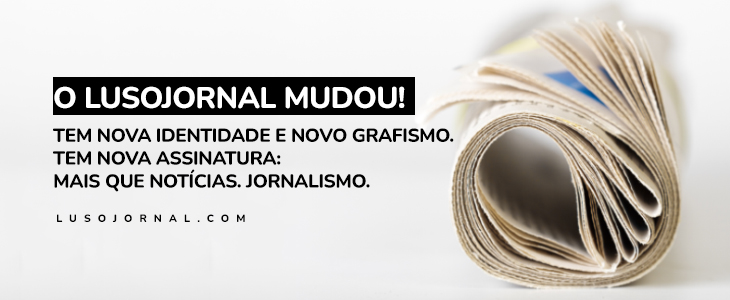“Quando as girafas baixam o pescoço” é o quarto romance de Sandro William Junqueira. Nascido em 1974, na antiga Rodésia, atual Zimbabwe, o escritor começou a publicar em 2009, ano em que lançou “O caderno do algoz”. Em 2012, publicou uma bela distopia, “Um piano para cavalos altos”, e 2014 foi o ano do romance “No céu não há limões”. Sempre pela Editorial Caminho, o Sandro tem também publicado livros infantis.
Este “Quando as girafas baixam o pescoço” é um romance que mantém o registo dos livros anteriores, um estilo fragmentário, de frases curtas, assertivas, sem os malabarismos que por vezes afetam a literatura contemporânea.
Um livro compartimentado em 100 microcapítulos, de cenas únicas que se interpenetram. Um registo próximo do teatro, outra das paixões do autor.
Os personagens – todos com nomes extraordinários que, ao mesmo tempo que lhes sugam a individualidade, os tornam inesquecíveis: a Mulher Gorda, a Rapariga Magra, o Homem Desempregado, a Cátia com C de cão… Esses personagens vivem todos no Bloco 19 de um bairro junto a uma estrada com um buraco. Toda a gente se conhece, mas, embora vivam uns em cima dos outros, mal se fala.
“Quando as girafas baixam o pescoço” é um livro urbano que nos transporta para tempos de crise e nos mergulha nas vidas de personagens iguais a nós próprios.
Sandro, contaste numa entrevista a forma como, ainda criança, te aproximaste da literatura. Essa tua história – que é muito parecida com a minha – é a prova de que não é preciso viver rodeado de livros e de ávidos leitores para se amar os livros e a literatura. Podes contá-la?
Eu sou filho único e os meus pais não são, nunca foram, grandes leitores. Nós, na altura, vivíamos em Setúbal, eu tinha 10 ou 11 anos e já lia muita banda desenhada, o Tintim, o Lucky Luck, o Astérix, os Cinco… Os meus pais tinham uma estante muito grande na sala e ter uma estante vazia na sala é uma coisa esteticamente muito feia. Por esses anos, os livros chegavam a casa das pessoas através do Círculo de Leitores e os meus pais felizmente decoraram a estante com muitos livros. Um dia, chego a casa com má cara e a minha mãe leva-me ao médico e ele diz que eu apanhei varicela. Fiquei quinze dias em casa de quarentena. Só havia dois canais de televisão, começavam a chegar os primeiros computadores, ou seja não havia grandes distrações. Então eu passei esses quinze dias da varicela deitado e a ler. E o curioso é que a comichão provocada pela varicela só regressava quando eu interrompia a leitura ao ouvir a chave na porta à hora de os meus pais voltarem a casa. Ao ler aquelas aventuras do Júlio Verne, ao viver com aqueles personagens, não existia comichão. Foi então que eu percebi que a literatura tinha qualquer coisa de mágico, que nos tirava do lugar onde nós estávamos e de nós próprios. E, pronto, foi assim que me tornei num leitor voraz.
Falando deste livro. A fragmentação da estrutura e as várias linhas narrativas podem assustar o leitor mais acostumado a enredos lineares. Porém, ao ler-te percebi que todo aquele aparente caos de fragmentos…
É só aparente.
Sim, sim, é só aparente, tudo faz absoluto sentido. Diz-me, tu partes para a escrita de um livro já com um plano ou deixas-te levar, seguindo o teu instinto?
Não, eu nunca sei sobre o que vou escrever, nunca tenho nenhum plano e vou escrevendo as imagens que me surgem. Vou fazendo perguntas e nunca deito nada fora. Por mais estranho que possa parecer, o que estou a escrever, nunca deito fora. Depois acontece o mistério da escrita. Vais começando a escrever, vais fazendo perguntas, vais andando, andando, andando… Eu costumo dizer que escrever é como conduzir um carro no Alentejo numa noite sem lua e só com os mínimos acessos. Só consegues ver aquele metro e só à medida que vais avançando é que vês o que está à frente. Mas depois há aquele momento em que eu sinto que o livro já está lá algures. Ou seja, é como uma pedra em bruto e depois aí é preciso esculpir, trabalhar o texto para encontrar o livro no meio dessa matéria bruta. É isso que eu faço. Depois esse trabalho é tão exigente e demora tanto tempo como a própria escrita em si. Então só no final do livro é que eu começo a perguntar “mas porque é que eu escrevi isto?”. Se eu soubesse o que vou escrever, nunca escreveria. Por não o saber é que escrevo.
É o desconhecido que te dá o gozo. Será por isso, já te ouvi dizer, que desconfias das histórias muito bem acabadas?
É. Um dramaturgo alemão disse um dia “uma história em que se percebe tudo, é uma história mal contada”. Eu acredito piamente nisso porque, na verdade, a linearidade, ou seja, aquela história em que está tudo muito bem contado cronologicamente, que vai de A a B e de B a C, não tem nada que ver com a forma como nós vivemos ou como funciona a nossa cabeça, muito pelo contrário. Nós estamos cheios de buracos, de hiatos, de nuvens… a nossa memória engana-nos. No fundo, a minha escrita fragmentária, com saltos, está mais próxima da vida. E é isso que eu quero fazer, quero fazer uma literatura mais próxima da vida do que propriamente essa historinha muito bem contada.
E é exatamente por isso que te vou perguntar o seguinte, Sandro. A forma como olhas para a humanidade, leva-me a crer que não és daqueles escritores que evitam confusões, que evitam enfiar o dedo na ferida. Afinal és um autor que escreve distopias e a distopia é por natureza “interventiva”, para não dizer “disruptiva”. Sentes que tens de denunciar aquilo que te revolve o estômago?
Sim, claramente. Eu acho que todos os artistas devem assentar em dois pilares. Primeiro, o pilar estético. Tentar criar a melhor obra de arte, encontrar a beleza. E, segundo pilar, tão fundamental, é o pilar ético. Ou seja, eu tenho, como escritor, a responsabilidade de olhar para o mundo que me rodeia e de apontar aquilo que me incomoda. De responder aos socos que a vida e realidade me dão. Eu não me sentiria bem só a escrever o Belo pelo Belo, ou só à procura das frases bonitas, porque isso é oco, é vazio. Ok, são frases bonitas, mas…
Mas fica por aí, não passa disso.
É, sim, é isso. E depois?
Fala-nos da tua relação com as outras artes. Tentaste pintar. Passaste pela escultura. Estás ligado ao teatro. Este teu livro está carregado de referências musicais. Que relação é essa?
Eu fui fazendo tentativa e erro, fui experimentando várias coisas, sempre senti um grande apelo pelas manifestações artísticas. Isso até encontrar aquela onde me sinto melhor, onde me sinto mais livre. E isso é muito importante para mim. Eu quando estou a escrever falo sobre o que quero e não tenho censores nem nada que me diga “não é assim”. O facto de ter passado por essas artes foi positivo no sentido em que todas elas acabam por escorregar para dentro daquilo que eu faço. Os escritores são esponjas do mundo. Nós andamos a apanhar o mundo e depois esprememos a esponja para dentro do livro.
Entrevista realizada no quadro do programa «O livro da semana» na rádio Alfa, apoiado pela Biblioteca Gulbenkian Paris
Próximo convidado: Jorge Silva, coordenador da “Comunidade de Leitores da Maia”
Quarta-feira, 06 de fevereiro, 9h30
Domingo, 10 de outubro, 14h25
[pro_ad_display_adzone id=”20983″]