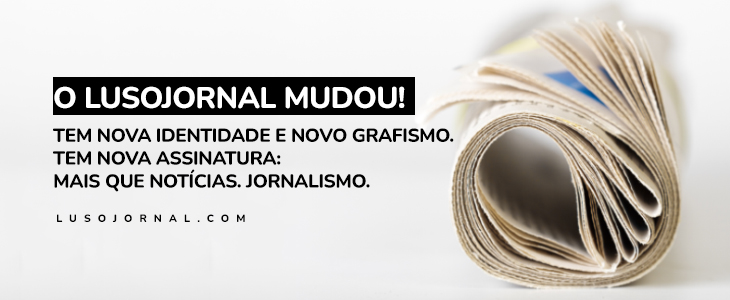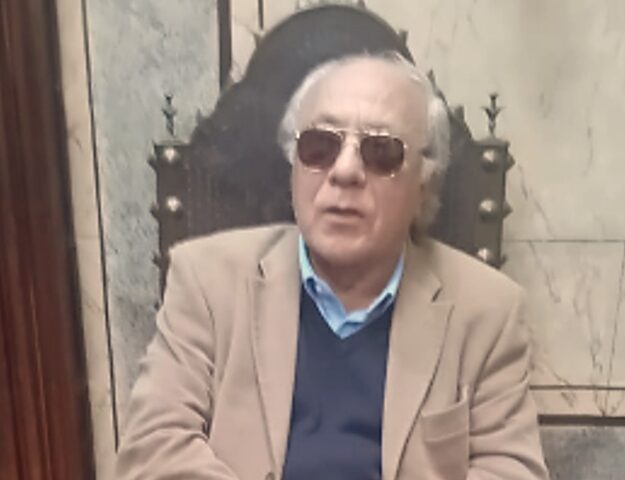Norberto Morais regressa às livrarias com o seu terceiro romance, “A Balada do Medo”. Um romance histórico profundamente original como, aliás, o são também as duas anteriores obras do autor, “Vícios de Amor” (2008) e “O Pecado de Porto Negro” (2014).
A sua originalidade reside no facto de se ignorar voluntariamente todas as referências históricas reais, sejam topográficas ou institucionais – nomes de países, cidades ou personagens verídicos – para assim se criar o “sexto continente”, um mundo só seu, que atravessa o conjunto da sua obra e que ele conhece como ninguém.
Claro que na construção deste “sexto continente”, Norberto Morais utiliza alicerces que nós reconhecemos imediatamente e que nos empurram ali para a ideia mítica de América Latina de finais do século XIX. Uma natureza luxuriante e selvagem, tropical, ao mesmo tempo assustadora e fascinante.
Este “Balada do Medo” é portanto um romance histórico que vai muito além do que se costuma fazer em Portugal – normalmente obras que seguem tão estritamente a História real que mais parecem uma obra historiográfica com diálogos. Norberto Morais faz muito mais do que isso. Neste livro, ele inventa mais um país, São Gabriel dos Trópicos, atravessado por um rio que não existe, o rio Caya, e que foi abalado por uma guerra civil, opondo dois Presidentes e conduzindo à criação de um grupo de guerrilheiros.
É neste contexto que Cornélio Santos Dias de Pentecostes, o protagonista “múltiplo” de “Balada do Medo”, tem a vida por um fio. Ameaçado de morte pelo sicário Tordesílio Mata Mãe, contratado para o matar no prazo de um mês, ele arranja uma solução original de ir adiando a própria morte: o pagamento de 100 mil “cádos” (moeda também inventada pelo Norberto) ao matador de aluguer por cada dia de vida extra. A questão porém impõe-se: quem mandou matar Cornélio?
Norberto, na introdução, eu disse que este teu protagonista, o Cornélio, é um personagem “múltiplo”. Explica-nos porquê.
Ele, de certa forma, é como se fosse um personagem sem uma personalidade própria. Ele foi criado longe do seio familiar por uma espécie de mentor que tinha uma vingança em mente e que acabou por se servir dele para esse fim, o que dá uma outra história paralela dentro do livro. Para cumprir algumas funções que lhe eram destinadas, ele tinha de ter identidades falsas porque o país estava em guerra e ele precisava delas para passar de um local a outro. E com isso, ele foi ganhando outras personalidades, que ele tinha, de certa forma, de representar. Tudo isso lhe granjeava algum sucesso por entre as mulheres com as quais se ia metendo pelo caminho e isso acabou por lhe ficar como uma espécie de vício. Ou seja, ele, não tendo uma personalidade, acabou por ir absorvendo as personalidades falsas.
Ele é um caixeiro-viajante?
Sim, depois tornou-se um caixeiro-viajante.
Bem, e tudo lhe vai correndo lindamente até ao dia em que a sua vida corre perigo. Aí, o registo muda radicalmente e tu fazes uma espécie de reflexão sobre o medo. Eu sei que é uma temática que te fascina. Porquê?
Primeiro porque é uma coisa muito basilar em nós. É talvez a primeira e mais fundamental das nossas emoções. Mesmo na literatura, se recuarmos por exemplo à Bíblia, é o primeiro sentimento que Adão tem. Não é a vergonha, é medo do mal que fez. De certa forma é também uma alegoria aos nossos dias. Embora não nos apercebamos muito disso, nós vivemos constantemente com medo de tudo. Eu quis pegar na ideia de como uma notícia, ainda que não seja verdadeira, te pode condicionar por completo e te fazer mudar a vida e a perspetiva que temos dela. Tudo por causa do medo que nos tolhe.
Neste livro, ao contrário do anterior, centras-te num só personagem. Ao nível do processo criativo, foi mais fácil ou mais difícil?
Não te sei responder se foi mais fácil ou mais difícil. Por um lado, quis descolar-me de “O pecado de Porto Negro”. Às tantas, as pessoas esperavam uma continuidade, não uma continuidade literal do livro, mas uma sequência de crescendo. Não queria ter esse peso. Quis pegar numa coisa completamente diferente. E o facto de ser um personagem só também ajuda nessa questão do medo porque estão os holofotes todos centrados nele. E tu vais acompanhando o personagem no seu crescendo. Primeiro há o medo, e o medo é uma coisa mais ao menos racional que te permite tomar alguma decisão. Medo, nós temos sempre: que o dia de amanhã não corra bem, que a entrevista de emprego ou uma apresentação não corra bem. Se escreves um livro e pensas “será que vai ter boa aceitação por parte do público?”. Esse é o medo racional. E depois há outro tipo de medo: o pânico que te paralisa. E é esse pânico que vai tomando conta do personagem e que o vai mantendo refém. E o estar centrado num personagem só quase que te permite estar sempre dentro daquele personagem, ou seja, ele é o elo que te acompanha, que te leva a não dispersar tanto. O que de certa forma pode, na narrativa, prejudicar-te um pouco porque não tens mais pontos de fuga. Quem, à partida, não gostar dele, o livro fica logo inviabilizado.
Existe também neste livro um contraste muito nítido entre o desespero de sobreviver e o humor que incutiste no texto. Isto foi premeditado ou veio ao correr da pena?
Tirando um ou dois que tenho na gaveta, eu parto sempre para um livro em branco. Não tenho ideia nenhuma sobre o que vou escrever e o livro vai acontecendo. E é quase como se o personagem te fosse ditando as regras. E tu vais achando graça. Fazendo esta entremeada de humor com tragédia, tu riste-te da própria morte. E é isso que faz com que vás levando a vida. Enquanto humanos, nós temos um pavor de tal ordem que se não for o humor, não conseguirias viver. Eu não queria que o livro tivesse uma carga muito pesada.
Li algures numa entrevista que deste há pouco que pretendes dissecar o tema da morte no livro que estás a preparar. Deixa-me também perguntar-te se vais mudar de cenário ou se vamos continuar no teu “sexto continente”?
Esse livro em concreto, se for mesmo esse livro que siga avante, não, não se passará no “sexto continente”. Passa-se em Lisboa. Eu estive a escrever esse livro durante dois anos e meio e depois parei. Ando a concetualizá-lo há vinte anos e está a transformar-se em algo de gigantesco, não linear, de umas 800 páginas, completamente diferente. Tenho uma necessidade grande de escrever esse livro. É um chafurdar na lama. Não na minha, mas na lama de toda a gente.
Entrevista realizada no quadro do programa «O livro da semana» na rádio Alfa, apoiado pela Biblioteca Gulbenkian Paris
Próximo convidado: João Nuno Azambuja autor de “Autópsia”
Quarta-feira, 06 de novembro, 9h30
Domingo, 10 de novembro, 14h25
[pro_ad_display_adzone id=”2724″]